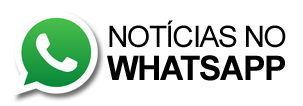por César Godinho e Cássius Guimarães Chai (*)
Eles, ribeirinhos, indígenas, agricultores, pescadores e moradores que ainda escutam o Rio Doce gemer como chaleira no fogão de lenha. A água, que antes se deitava mansa no leito, hoje carrega lembranças de rejeito, ferro e pressa. O rompimento da barragem de Fundão não foi apenas lama; foi a quebra de um pacto mínimo de cuidado, uma ofensa à confiança que comunidades inteiras depositaram na palavra escrita da lei e no silêncio da natureza. A responsabilidade ambiental no Brasil não precisa de culpa provada para existir, mas exige a amarração clara entre o dano e a atividade que o gerou, mesmo sob o regime do risco integral. Isso está na lei e na jurisprudência, como quem grava em pedra para não esquecer.
A lama correu feito trem desgovernado: mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos descendo serra abaixo, tocando vidas ribeirinhas, povoados indígenas, agricultores, pescadores e cidades inteiras. A extensão do estrago, espraiada por centenas de quilômetros, virou símbolo de um tipo de causalidade que não cabe em régua antiga. Eles sabem que modelos de culpa pensados em outro século não dão conta de uma tragédia que se espalha, escorre e demora a se aquietar. A pluralidade de mãos e omissões, a mistura de licenças frouxas, fiscalizações falhas e ganância industrial exige outro modo de raciocinar o nexo causal.
Nas folhas frias do processo nº 0023863-07.2016.4.01.3800, depois reautuado sob o PJe nº 1016756-84.2019.4.01.3800, e na ação civil pública nº 0069758-61.2015.4.01.3400, eles encontram as tintas que escorrem das vísceras da tragédia. Ali, cada despacho, cada laudo, cada acordo rabiscado com pressa ou prudência revela a tentativa de domesticar o caos em letras miúdas. O número do processo vira quase endereço de dor, um modo burocrático de dizer que o rio ferido tem voz. É o nome jurídico da lama, a certidão do dano, a caligrafia das responsabilidades compartilhadas que o juiz precisa ler sem pressa, ainda que constrangido pela urgência, tal qual quem decifra carta antiga iluminada pela luz da lamparina.
Cada pedaço de prova vira pedrinha de mosaico: laudos do IBAMA classificando o desastre como de porte muito grande, diagnósticos da FGV e dos Institutos Lactec apontando danos que vão do peixe morto ao comércio paralisado, das casas rachadas à memória esgarçada. Matrizes de danos aceitas consensualmente aparecem como mapas de dor e possibilidade de reparação. Os acordos assinados pelas empresas, o TTAC e o TAC-GOV, soam como reconhecimento implícito de que houve culpa de fato, ainda que o tribunal peça outro nome. Esses papéis, selados sem briga, funcionam como carimbo de autenticidade na narrativa de quem sofreu.
O Direito, para não virar poeira de estrada que o vento leva, precisa de racionalidade que dê conta da complexidade. Não se pode exigir certeza de laboratório quando a realidade é barro depois da enchente. O que se pede do julgador é justificação racional da plausibilidade: provar o bastante, com coerência e verossimilhança, para que a decisão se sustente como casa bem alicerçada e não como palhoça à beira do córrego. Esse giro epistemológico desloca o foco da “convicção íntima” para o controle intersubjetivo: a crença judicial deve ser explicada, debatida, compreendida como quem passa o café no coador e mostra a água escurecendo, grão por grão, sem truques.
Eles, os atingidos, não pedem milagres. Querem que a lei faça o que promete: reparar, prevenir, responsabilizar. Que a prova seja rede bem urdida, não corda frouxa. Que o juiz reconheça a multicausalidade sem se perder nela, que o Ministério Público não confunda plausibilidade com chute, que as empresas não finjam desconhecer o barro que lhes suja as botas. É preciso equilibrar o passo: nem arbitrariedade que esmague a defesa, nem rigidez que negue o óbvio. O meio ambiente como direito fundamental não tolera jogo de empurra; precisa de decisão com alma e método.
A experiência do caso Samarco ensina que a reconstrução do nexo causal é possível e necessária para que a tutela constitucional do meio ambiente vire prática, não vitrine. Coerência narrativa, suficiência inferencial e racionalidade argumentativa funcionam como ferramentas de um artesão que conserta telhado em dia de chuva: não há tempo para teorias inúteis, mas também não se pode tapar goteira com pano velho.
No sertão das Minas Gerais, dizem que vereda se entende com o passo. O sistema de justiça precisa aprender esse passo miúdo e firme, livrar-se da tentação da certeza impossível e da retórica vazia. Eles, os que perderam gente, casa e rio, não suportam mais promessas. Pedem sentença com raiz, decisão que explique o porquê e o para quê, que sirva de exemplo e freio. A causalidade, quando bem pensada, não é laço apertado demais, é nó de tropeiro: firme, mas capaz de ser desfeito quando o caminho pede correção.
Que este caso não se reduza a um capítulo triste engavetado. Que vire lição para o amanhã, parâmetro para barragens e governos, conduta para empresas que brincam de cortar morro sem medir o peso da chuva. Eles, os de baixo, continuarão olhando o rio, esperando que volte a ser água boa de infância. O Direito tem a obrigação de ajudar nessa travessia, não como discurso alçado em palanque, mas como ponte segura sobre a lama.
Afinal, quem escuta o rio que agoniza? E as almas afogadas? E a esperança silenciada? Vês que, talvez, ninguém assistiu às últimas quimeras; apenas a sanha ingrata do vil metal tornou-se sua amiga inseparável. Que a Justiça não lance o ósculo do escarro como epíteto, e nem se torne a vil mão que os afaga.
(*) César Godinho | Doutorando e Mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), com área de concentração em Direitos e Garantias Fundamentais. Professor. Advogado.
https://orcid.org/0000-0003-0202-0710. contato: cezargodinho3@gmail.com
(*) Cássius Guimarães Chai | Diplomado ESG CAEPE, 2019 | Professor Titular UFMA e FDV
As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores por não representarem necessariamente a opinião do jornal.