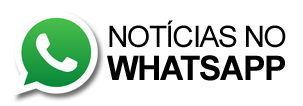Em 2022, depois de dois aniversários em reclusão domiciliar, eu, enfim, poderia comemorar de verdade com as pessoas que eu gosto. Eu havia me mudado de cidade em 2020, naqueles tempos estranhos e incertos em que tudo estava fechado. Um ano depois, recebi três amigos no apê para tomarmos um vinhozinho; agora as coisas ensaiavam um retorno à normalidade.
Organizei um churrasco, na área da casa dos meus pais. Comprei umas cervejas, chamei parceiros de longa data, os parentes que moram próximos. Tenho a sorte de ter amigos que tocam e cantam, então é certeza de que o negócio vai ficar animado.
Montamos uma estrutura legal, com microfones, instrumentos ligados a caixas de som. Cada hora um músico assumia o violão, outro cantava; rolava Engenheiros do Hawaii, seguidos de Marília Mendonça, Claudinho e Buchecha na sequência, todo mundo saía feliz.
O som alto ecoava. Uma vizinha, moradora da rua de trás, apareceu na janela. Uma senhora. Simpática, acenou, interagiu. Da sala da casa dela, elogiou, aplaudiu.
Até que algum amigo mais empolgado, ao microfone, meio jogando conversa fora, a convidou para chegar mais. Instantes depois o interfone tocou.
A pessoa lá embaixo perguntava se era ali que estava tendo uma festa.
Agora o churrasco tinha mais uma convidada, embora não fosse exatamente eu, o aniversariante, a chamar. A senhora se apresentou: era a Mira, a vizinha.
Perguntou de quem era a comemoração, então me abraçou, desejou tudo de bom, me abençoou. Sondou secretamente com meus amigos se eu era cristão e, com a confirmação, ganhei de presente um cordão dourado, com um crucifixo; nem precisava.
A Mira conversou com um, com outro, com todo mundo. Dissemos que ficasse à vontade, e ela ficou – talvez até demais. Colou no tocador de violão da vez, cantou, queria porque queria ouvir uma do Coldplay. Aceitou cerveja, bebeu várias; dançou com meu tio. Roubou as atenções.
Quem incialmente pareceu ser só uma senhora descolada acabou se mostrando uma pessoa com uns parafusinhos a menos; coitada. Entrava sem rodeios em qualquer conversa, cantava gritando, bebia sem parar, pedia outra vez Coldplay. Começou a cansar nossa beleza.
Aos poucos, foi naturalmente sendo meio deixada de lado, não teve jeito. A turma me olhava com aquela cara de “O que a gente faz com ela agora?” e optamos mesmo por não fazer nada.
Após algumas horas, a estranha visita resolveu, por conta própria, partir. Virou o assunto do evento – daquele ano e dos próximos.
Dormi na casa dos pais. No outro dia, já no meu apartamento, ao desfazer a mochila com as coisas que eu tinha levado, procurei, procurei, mas não encontrei o tal cordão dourado. Revirei e nada. Então algo começou a martelar na minha cabeça.
“Teria sido a Mira uma… miragem?”, me questionei. Coletiva, ainda por cima!
Mas não, o presente tinha ficado para trás sem querer. Já o recuperei; o cordão, pelo menos, é real, posso garantir.
Nos anos seguintes, em mais churrascos na mesma área, foi inevitável olhar para aquela janela. Aberta, porém eternamente vazia.
Nunca mais vimos a vizinha. De vez em quando chega alguma notícia de que ela está bem, ainda mora no bairro dos meus pais, mas é meio, digamos, peculiar.
Eu sigo gostando de comemorações, ainda mais em casa e entre amigos. De preferência, os que eu conheço de verdade e tenho certeza de que existem mesmo.
(*) Mineiro, jornalista e mochileiro.
Já rodou meio mundo e, quando não está vivendo histórias por aí, está contando alguma. Ou imaginando, pelo menos. É um fã da arte de contar histórias: as dele, as dos amigos e as que nem aconteceram, mas poderiam existir.
Acredita no poder que as palavras têm de fazer rir, emocionar e refletir; de arrancar sorrisos, gargalhadas e lágrimas; e de dar vida, outra vez, às melhores memórias. É autor do livro de crônicas “Isso que eu falei” e publica textos no Instagram no @isso.que.eu.falei.
As opiniões emitidas nos artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores por não representarem necessariamente a opinião do jornal.